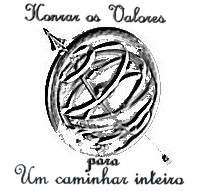Um dos temas centrais actualmente em debate no domínio da Justiça é a projectada reforma da organização judiciária.
Que o Governo pretende fazê-la, é evidente.
Que ela é necessária, creio que é consensual.
Aquilo que me parece pouco evidente e nada consensual é QUE REFORMA se pensa fazer.
De há alguns meses a esta parte, alguns membros da equipa que actualmente dirige o Ministério da Justiça vêm largando, às pitadas, em alguns órgãos da comunicação social, uns «pozinhos» sobre qual poderá vir a ser o conteúdo da projectada reforma, por vezes – segundo me pareceu – de forma contraditória.
Mais recentemente, foi revelado o conteúdo do estudo, da autoria do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, com base no qual, segundo tudo indica – não é certamente por acaso que o mesmo está acessível no site do Ministério da Justiça – a reforma será feita.
Concomitantemente, anuncia-se a reforma para breve.
O «acordo político-parlamentar para a reforma da justiça» agenda essa reforma – que impropriamente designa por «revisão do mapa judiciário» – para 2007. Como não especifica para que trimestre ou semestre de 2007 o faz – ao contrário do que acontece com outras «iniciativas», de acordo com o «calendário» estabelecido no seu artigo 4.º –, parece que a mesma poderá surgir num período entre 19 e 384 dias a partir de hoje.
Ora, é aqui que me parece haver um problema: o da falta de condições para implementar as propostas do estudo em causa a curto (e provavelmente também a médio) prazo.
O próprio estudo tem a preocupação de realçar este facto.
Diz o estudo, a páginas 45-46:
"A proposta de reorganização territorial da justiça que, à luz da investigação realizada no âmbito do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa e das principais linhas que a seguir enunciamos, circunscreve-se ao processo de definição do novo modelo de mapa judiciário, e não da sua concretização, e diz respeito apenas à primeira instância da jurisdição comum, com exclusão dos tribunais do trabalho.
Adoptado o modelo e definida a agenda de execução, a sua concretização exige, ainda, a verificação de um conjunto de condições (como, por exemplo, o eficaz funcionamento da rede informática do sistema de justiça) e a avaliação e análise, o mais precisa possível, de outras vertentes e indicadores, designadamente indicadores que permitam definir o número óptimo de processos por unidade orgânica; a avaliação da procura dos tribunais do trabalho; do estado das infra-estruturas judiciárias; dos recursos humanos e da sua previsão; dos processos pendentes, à altura, em cada tribunal; do impacto das recentes medidas de descongestionamento dos tribunais; e das distâncias entre os vários espaços dentro da circunscrição a definir e das acessibilidades (estradas e transportes) que, só por si, podem levar a alguns ajustamentos e a respostas diferenciadas de circunscrição para circunscrição (…)" (os realces são da minha autoria).
Mais à frente (p. 51, ponto 3.4) afirma-se:
"O modelo de mapa judiciário que preconizamos pressupõe um sistema integrado de informatização da justiça, que permita, por exemplo, que, num balcão de atendimento, ou num quiosque informativo, os cidadãos obtenham informações sobre o seu processo ou possam enviar peças processuais".
De vários outros passos do mesmo estudo resulta que a sua implementação pressupõe condições que, manifestamente, não existem, nem acredito que venham a existir a breve trecho, tendo nomeadamente em conta a necessidade de diminuir a despesa pública.
Em face disto, como poderá fazer-se, a curto prazo, uma reforma da organização judiciária baseada no estudo citado, que claramente assume que apenas define um novo modelo de mapa judiciário, que não concretiza e, ainda por cima, é incompleto, e reconhece a sua inexequibilidade nas actuais circunstâncias?
Espero que a agenda político-mediática não se sobreponha ao interesse nacional e que não se avance precipitadamente para uma reforma que «estoire», de vez, com aquilo que, do sistema de justiça português, «reformas» anteriores (como a da acção executiva, que paralisou esta última) ainda deixaram de pé.